Enquanto o conceito de humanidade for excludente, o 20 de novembro é necessário

Foto acima: Roberto Parizotti/FotosPublicas
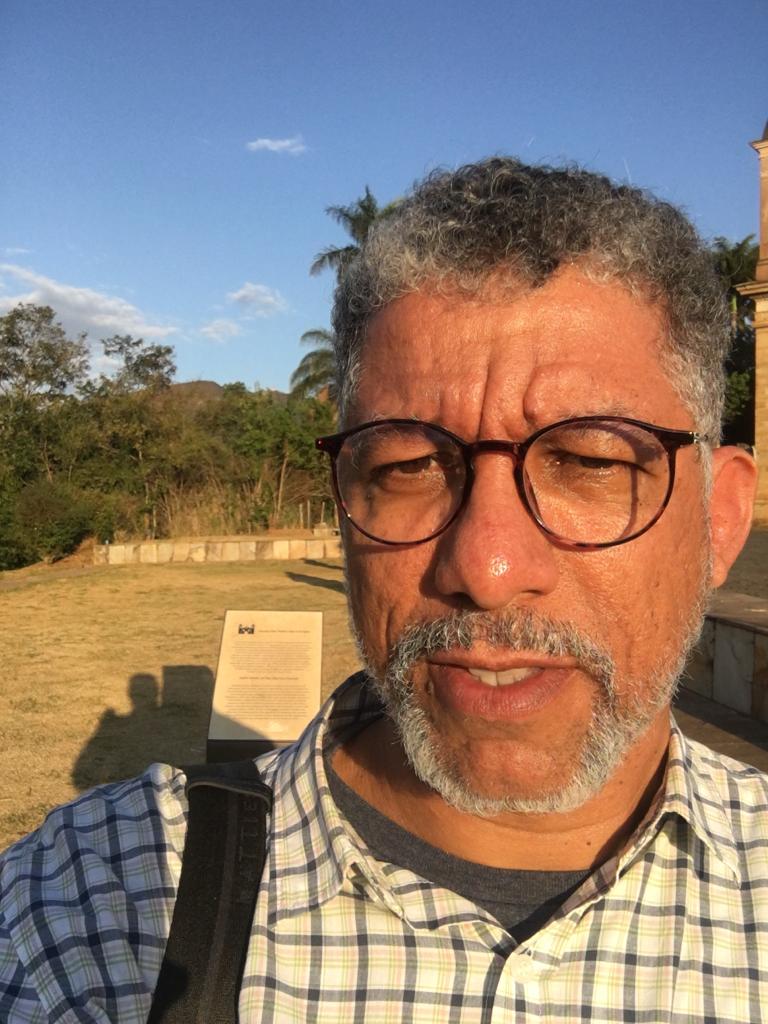
Em 2021, completam-se dez anos da lei federal, que instituiu o 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra. Essa é a data da morte de um dos maiores ícones da resistência negra da história do Brasil, Zumbi dos Palmares, assassinado em uma emboscada, em 1695.
A criação oficial dessa celebração é fruto de uma luta histórica por reparação, igualdade e combate às mais diversas formas de opressão, ainda tão latentes. Diversos indicadores e pesquisas apontam que os negros sofrem mais com o desemprego, a informalidade, a insegurança alimentar, a violência policial e tantos outros problemas. Têm ainda maior dificuldade de acesso a direitos básicos, como educação, saúde e saneamento Agravando o cenário, o país vive um desmonte de políticas públicas sem precedentes na sua história, o que coloca em xeque avanços obtidos duramente ao longo dos anos.
Para debater mais sobre a data e a luta antirracista no Brasil, a ASPUV conversou com o professor do Departamento de Letras, Adélcio de Sousa Cruz, que, entre outros temas, trabalha a luta e literatura afro-brasileiras. O docente também integra o atual Conselho Deliberativo do sindicato.
Confira a entrevista:
Chega o 20 de novembro, vem junto aquele discurso de consciência humana, questionando o porquê da data… Então, começamos perguntando: por que ainda precisamos marcar e celebrar a Consciência Negra?
As datas como o 20 de novembro, dentre outras, continuarão necessárias enquanto o conceito de “humanidade” for excludente. A geração nascida nas décadas de 1960 e anteriores conheceu nos materiais escolares e no currículo os famigerados “vultos” e personagens da chamada “história oficial”. Nenhum destes “vultos” era negro/negra/negre. Não se pode deixar a memória da população negra nas mãos das classes dominantes que, intelectualmente desonestas, continuam acreditando na falácia chamada “democracia racial” e todos somos “brasileiros/brasileiras”. A luta da comunidade negra pelo direito à memória à vida digna é diária e constante.
Como o discurso revisionista e negacionista, que coloca em xeque até mesmo se houve escravidão no país, é sintoma de um Brasil ainda racista e que muito tem o que avançar na promoção da igualdade racial?
Esta pergunta é um dos desdobramentos do que podemos chamar de embate pela memória. Infelizmente, o “negacionismo” é a nova “peste” que saiu das gavetas, de mãos dadas com o “revisionismo”, com uma intensidade preocupante, para dizer o mínimo. Ainda tocando no tema da desonestidade intelectual, não se pode deixar de mencionar que a história brasileira “oficial” defendia, até pouco tempo, outra falsidade: a “escravidão benigna”, que no Brasil, ocorria sem o uso da violência, pasmem… Daí, para tentar negar a “escravidão”, que perdurou por mais de trezentos anos, não é de surpreender.
Por outro lado, recentemente, presenciamos ações como a campanha Vidas Negras Importam, que teve bastante volume especialmente nas redes sociais. Isso indica algum avanço em uma outra parcela da sociedade ou efetivamente em ações práticas?
Gostaria de salientar que a repercussão nas redes sociais e, posteriormente, na “grande mídia”, foi possível apenas devido à sua materialização em enormes passeatas nas ruas dos EUA e em alguns países europeus como a Inglaterra e França. A palavra e o corpo negro utilizados como potência transformadora, inaugurando/renovando mais um modo de se colocar no mundo, na luta para derrotar o racismo e, por extensão, o fascismo. O movimento Black Lives Matter (Vidas Negras Importam) se tornou um novo marco na luta contra o racismo, não apenas nos EUA como em outras partes do mundo. Há que se destacar pontos inéditos em relação a esta campanha: a) o movimento nasce de modo “espontâneo”, no cerne da nova geração negra que combatia, naquele momento, a violência policial; b) as juventudes latinas e asiáticas, também aderiram aos protestos; c) jovens branco/as, pela primeira vez em grande número, marchavam à frente das passeatas, com o intuito de evitar os ataques das tropas de choque da polícia (isso, ainda não aconteceu no Brasil). O combate à violência racial acontece simultaneamente ao combate contra a violência policial. A polícia é um “aparelho” que, pertencendo à estrutura estatal, também possui o racismo – e outros preconceitos – como um dos seus fatores de constituição.
Apesar de ser considerada um espaço de vanguarda ou com um pensamento crítico mais aguçado, a universidade é um recorte da sociedade de forma geral. Reproduz suas contradições, violências, desigualdades… Dessa forma, como avalia a condição do negro dentro da universidade brasileira?
Continuamos a ser “corpos fora do lugar”, devido a própria história da educação no país, um percurso excludente. A presença negra no ensino superior é fruto da luta do movimento negro, que além da inclusão da população negra no ensino superior, foi catalisador de políticas públicas na saúde e outros setores. E outro ponto a se considerar: o incômodo do Estado brasileiro, em especial após Durban, de “ter preconceito”… a inclusão das populações negras e indígenas foi uma maneira, inclusive, de tentar melhorar a imagem do país no exterior. A maior população negra fora da África continua a ser “novidade” em espaços de prestígio na sociedade brasileira como a universidade, em seus setores docentes, técnico-administrativos e discentes.
Nos últimos anos, o Brasil avançou em políticas de democratização do ensino superior, o que fez, por exemplo, crescer o número de estudantes negros. O corte de verbas e o desmonte de políticas para a educação atingem de que forma esse processo?
As políticas públicas de inclusão no ensino superior começaram a modificar o quadro, a fotografia e as imagens em vídeo das universidades brasileiras. E mais do que imagens, pessoas negras passaram a frequentar este espaço não somente na categoria corpo discente, como também nas áreas de docência e técnico-administrativa. O desmonte via corte de financiamento na Educação é fruto do “backlash” (traduzido livremente como retrocesso) que vivemos desde o golpe de estado ocorrido em 2016. Na verdade, esse processo se iniciou no dia do resultado das eleições do segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff. A classe dominante brasileira, branca em números absolutos, trouxe à tona práticas herdadas dos períodos coloniais e da vigência do Império, re-atualizando/performando o “colonialismo interno”, numa guinada à extrema-direita sem precedentes em nossa história recente. A branquitude brasileira se beneficia de cortinas de fumaça como “somos todos brasileiros”, “não somos racistas”, “o país moreno”, “a democracia racial”. Basta revisitar nossa história e verificar que no momento em que os serviços públicos passam a ser extensivos a outras parcelas da população que não a “classe média branca”, assistimos entre estupefatos e imobilizados aos ataques para impedir o acesso das parcelas subalternizadas da população do país.
Em diferentes momentos, o atual governo relativizou o racismo e a desigualdade racial no Brasil. Sabendo que só avançamos a partir de políticas públicas, qual o cenário que temos no país, hoje, nesse sentido?
Como destaquei anteriormente, o que atualmente testemunhamos em relação à destruição de políticas públicas não encontra paralelo em nossa história. A “naturalização” da desigualdade e a do racismo estão alcançando níveis de perversão. As parcelas da população mais afetadas pela pandemia e pelo proposital descaso do atual governo são, não por coincidência, as mesmas que em gestões anteriores se beneficiavam das políticas de inclusão econômica, educacional e de saúde. Outro fato estarrecedor é o aumento da violência contra as populações negras e indígenas, afetando de forma mais aguda as juventudes de ambos grupos, mulheres e comunidade LGBTQI+. O dia 20 de novembro é parte da nossa memória, é elemento essencial na luta contra o racismo, especialmente em momento tão distópico que vivemos. A esperança é que seja possível uma mudança de cenário, rumo a uma sociedade mais democrática e verdadeiramente comprometida com o reconhecimento e a proteção da cidadania das parcelas subalternizadas do país.
Neste sábado, o movimento negro de Viçosa, sindicatos e representação estudantil realizam uma programação pelo 20 de novembro. Haverá marcha com concentração a partir das 08h nas Quatro Pilastras, atividades culturais e homenagens.
(Assessoria de Comunicação da ASPUV)